Vozes entrevista: uma conversa sobre o caos da convivência
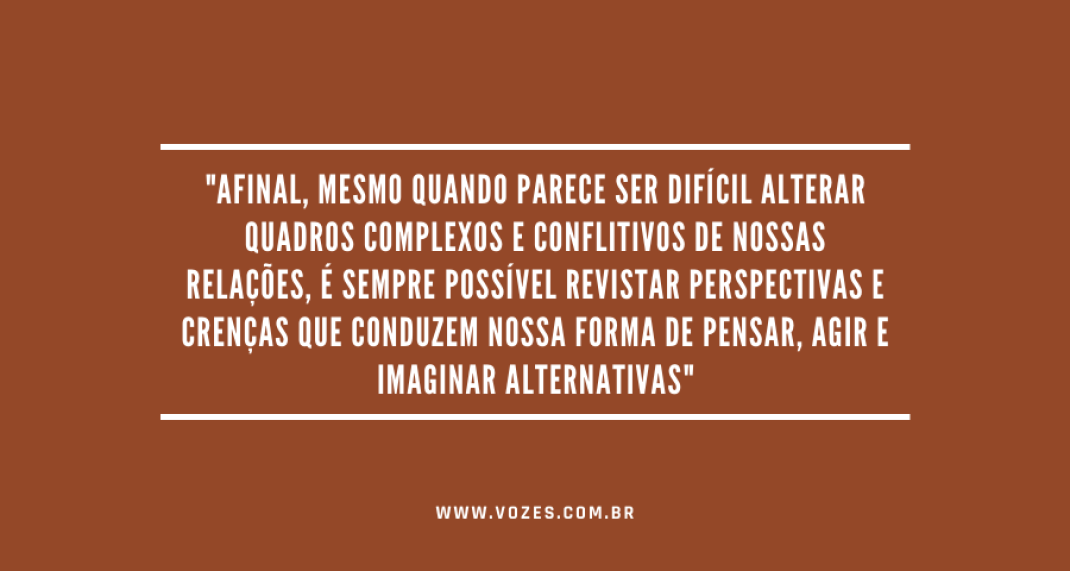
Na primeira edição da Semana de Filosofia da Editora Vozes, realizada em novembro de 2020, convidamos os autores Ângela Cristina Salgueiro Marques e Luís Mauro Sá Martino para falar sobre um tema em alta: a convivência – consigo e em sociedade. O resultado foi a entrevista que você pode apreciar abaixo:
- A convivência entre vocês vem de outros tempos e essa parceria resultou agora nessa obra publicada pela Vozes. Como e por que surgiu a ideia de escrever sobre esse tema?
De fato, temos uma interlocução que se construiu ao longo de 10 anos, desde quando trabalhamos juntos como professores do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Faculdade Cásper Líbero; e que perdurou mesmo depois da ida da profa. Ângela Marques para a UFMG, em 2011. O tema do livro reflete bastante a trajetória de parcerias na escrita de trabalhos acadêmicos, na preparação de cursos para nossos alunos e na construção de projetos de cooperação. Nosso intuito era fazer uma exploração mais detalhada de assuntos e conceitos que, a nosso ver, podem contribuir para alterar, redispor e reconfigurar os imaginários que sustentam nossa forma de construir vínculos com os outros. Conceitos como reconhecimento, afeto, acolhimento, empatia e amizade sustentam uma reflexão acerca de como produzir um mundo comum, partilhável, hospitaleiro, em meio a um caos de intolerância, desrespeito, ódios e desprezo pelas diferenças. Queríamos mobilizar um conjunto de palavras que possuem uma força para alterar padrões de ação no cotidiano, palavras que pudessem ser compreendidas por todos e que pudessem trazer algumas ideias de como tecer, refazer, alterar e manter os vínculos que sustentam nossa convivência com os outros e tornam o cotidiano possível de ser mais do que tolerável ou suportável, pois ele pode ser mudado, alterado, reconfigurado, com ações às vezes mínimas, mas que produzem reverberações e impactos difíceis de serem medidos. Acreditamos que os conceitos que nos conduzem em nossas pesquisas também podem oferecer um conjunto de ideias para alterar nossa forma de descrever, enfrentar e tratar os problemas e dilemas que fazem parte da convivência. Afinal, mesmo quando parece ser difícil alterar quadros complexos e conflitivos de nossas relações, é sempre possível revistar perspectivas e crenças que conduzem nossa forma de pensar, agir e imaginar alternativas.
- O primeiro capítulo, intitulado “acolher antes de exigir”, fala de autoconhecimento. Como conhecer a própria condição pode ajudar no acolhimento do outro?
Acreditamos que, em primeiro lugar, que costumamos ser muito exigentes com as pessoas que nos cercam. Nossos julgamentos e demandas podem muitas vezes ficar focados naquilo que esperamos que os outros sejam ou façam para nós ou por nós. Nos esquecemos que quem nos cerca também enfrenta dilemas e problemas e que, muitas vezes, precisam de nossa escuta e de nosso respeito. Assim, antes de exigir algo do outro, seria preciso compreender que, frequentemente, as respostas pelas quais ansiamos não necessariamente têm que passar pela ação dos outros ou por uma mudança em seus comportamentos. Pode ser que, aquilo que buscamos ainda nem tenha sequer sido definido por nós mesmos como essencial ou importante. Quer dizer, podemos estar requerendo dos outros respostas ou comportamentos que são aprendidos ou impostos por regimes de consumo, modelos institucionais e sociais que formatam nossa maneira de enxergar a vida e quem nos rodeia. Conhecer a própria condição significa valorizar nossas experiências, criando estratégias para diferenciar necessidades impostas sobre nós daquelas que realmente fazem sentido para guiar nossa existência. Esse aprendizado não é fácil, requer empenho e atenção: primeiro, para não nos definirmos segundo rótulos criados de maneira distanciada de como vivemos; segundo, para não classificarmos os outros a partir de nossas categorias e valores; e, terceiro, para percebermos como interpelamos e como somos interpelados pelos outros em situações do cotidiano, sobretudo naquelas que envolvem conflitos e assimetrias. É um jogo delicado de definir aberturas e limites para lidar com os outros, de definir regras não a partir de modelos prontos, mas a partir de nossas experiências concretas. Assim, quando conhecemos mais sobre nós mesmos e sobre as condições nas quais vivemos, temos mais chances de buscar alternativas para tornar mais justas e leves nossas decisões. Isso não desconsidera que nossas condições de fazer escolhas não sejam as mesmas, e que muitas vezes, as possibilidades de escolher são limitadas. Contudo, acreditamos que é algo importante buscarmos entender as situações que vivemos e do que, de fato, precisamos para modificar algumas dimensões. Nem tudo depende de nós, claro, mas é importante buscar compreender as condições, limites e fronteiras que podem ou não ser cruzadas quando nos relacionamos com os outros. Mas só podemos definir quais são essas fronteiras, ou se elas podem ser ultrapassadas ou mantidas, quando definimos quais são nossos limites: até onde podemos resistir, sermos resilientes, e a partir de qual momento temos que começar a impor algumas barreiras e resistências.
- Mais do que nunca, pensa-se em um “lugar de fala”: mulheres, negros/as, LGBTQIA+. Qual a importância desses espaços? É possível convivência apenas com “tolerância”? Em que ouvir a voz do outro nos ajuda a perceber que é fundamental ir além de “tolerar”?
Viver com os outros requer, de fato, muito mais do que tolerância. As experiências das pessoas são atravessadas e constituídas por uma diversidade de eventos e pelas interseccionalidades ligadas a gênero, classe e raça. Sabemos que certas identidades, saberes e comportamentos são privilegiados e avaliados como “melhores” do que outros. Há a reafirmação constante da universalidade de uma norma que torna assimetrias e interseccionalidades ilegíveis, silenciando-as. Assim, ouvir a voz do outro é ir além de tolerar. É preciso deslocar-se de seu lugar, ir em direção ao outro sem preconceitos e sem querer “traduzir” o universo em que ele vive dentro de nossos padrões e valores. Não há tradução total possível. Há tentativas de aproximação e avizinhamento. E isso é mais do que tolerar. Os outros vivem em “universos” que se diferem do nosso por vários motivos: há linguagens, sonhos, experiências, traumas que não são acessíveis a nós, mas que dão sentido e esperança aos outros. A tolerância pode ser vista como um primeiro passo em direção ao outro, mas para “ouvir sua voz” é preciso muito mais. A tolerância não é suficiente para escutar o mundo do outro, nem o que é cultivado nele. Acreditamos que a consideração, o acolhimento e a hospitalidade podem criar esse espaço de escuta, um limiar no qual podemos nos demorar um pouco para conhecer os saberes e experiências, os estilos e lógicas que estruturam as vidas daqueles que são diferentes de nós. Sob esse aspecto, cada um de nós possui lugares de fala específicos. Tais lugares não se definem apenas pela afirmação de nossas identidades. Um lugar de fala e sua construção revelam o quanto é importante tematizar e questionar as normas que invisibilizam e silenciam as vozes e as diferenças. Construir um lugar de fala é buscar fraturar e refazer a norma que regula quem pode ser visto, ouvido e considerado. Como destacou Djamila Ribeiro, um lugar de fala é um gesto político que desvela as assimetrias de poder na sociedade, que permite nomear e recusar as condições sociais, culturais, políticas e econômicas que perpetuam hierarquias. Assim, a tolerância, por mais que afirme um gesto inicial de receptividade á diferença, reafirma as regulações dos lugares ocupados pelas pessoas.
Ouvir a voz do outro é acolher e não apenas tolerar. A tolerância reafirma as fronteiras entre as diferenças, reitera o que consideramos ser privilégios e superioridades que dinstiguem sujeitos e grupos. O acolhimento por sua vez, produz limiares nos quais nosso tempo pode se dilatar para deixar vir o outro, para nos permitir ir até ele. Há, claro, limites para a abertura e para a doação, mas não podemos deixar de imaginar, a partir das reflexões de Walter Benjamin, que nossa vida em comum depende de nossa capacidade de cohabitar, de criar mais limiares nos espaços onde perduram as fronteiras, para que possamos construir juntos os recursos e possibilidades de reformar o cotidiano, de preservar e experimentar juntos, de melhorar o que temos e de sonhar com um futuro no qual sejamos sempre capazes de fazer brilhar formas de sobrevivência a partir dos escombros e das catástrofes.
- Reconhecer-se incapaz de saber ao certo o que o outro sente ao vivenciar uma experiência, embora pareça estranho, pode ser um sinal na direção da empatia?
Como mencionamos antes, não há como, de fato, “colocar-se no lugar do outro”. Não podemos pretender “experimentar como ele”, pois estamos distintamente localizados em contextos sociais e culturais diversos. Mas podemos apostar na criação de um espaço de encontro, um intervalo no qual podemos nos demorar e nos colocar à escuta do outro. Um limiar, mais do que uma fronteira, porque no limiar há passagem e trânsito, há movimento de idas e vindas, aproximações e distanciamentos. A empatia se exerce nesse contato: buscar estar junto de alguém, ao lado de, sentindo com o outro. A empatia nos permite viver uma emoção junto com o outro. É como se nos déssemos conta que nossas histórias conversam com as histórias dos outros, mais do que meramente se assemelham. No difícil exercício da empatia, aprendemos a conhecer o outro e não a explicá-lo ou pretender explicar seu mundo. Pela via dos afetos (deixar-se afetar, deslocar-se e transformar-se), promovemos a abertura necessária para produzir um espaço-tempo liminar comum na diferença e através dela. Quando aceitamos e consideramos o olhar que nos interpela, a voz que se dirige a nós e a expressão que nos convoca, não podemos manter uma posição de certeza. Duvidar do que acreditamos conhecer, nos colocar sempre à prova e reconhecer nossas falhas e incompletudes certamente é uma das empreitadas mais difíceis de nosso dia a dia. Isso porque a cultura ocidental e o modelo capitalista neoliberal que rege grande parte das sociedades valoriza as certezas, as invulnerabilidades, a ideologia de “construir a si mesmo” como superhomem ou supermulher. Isso vale também para o contato com os outros: ter sempre a resposta certa, achar que o outro age errado, crer que compreedemos as razões que levam as pessoas a seguir por determinados caminhos são pretensões de quem entende a si mesmo e a sua vida como “corretas”. Quando impomos nossos padrões aos outros não desenvolvemos empatia, não nos abrimos à uma perspectiva diferente. O principal impedimento da empatia é o poder, a assimetria que nos afasta, que nos retém nas fronteiras, que nos interdita o tempo necessário para elaborarmos juntos algo de comum através dos tensionamentos e articulações de nossas diferenças.
- “A internet deu voz a todos” – é o que comumente se pensa. Mas o que há no avesso desta “grande feira” das mídias?
Há uma grande diferença entre ter voz e falar. Voz todos temos, embora nossas expressões ocorram em espaços muito distintos. Mas falar requer escuta, consideração, um jogo entre interpelação e produção de resposta. Muitos espaços da internet podem oferecer visibilidade a relatos e narrativas que antes permaneciam ocultos ou não tematizados. Sabemos que várias formas de injustiça são denuciadas em espaços digitais e muitas formas de injúria que antes eram percebidas como isoladas podem, por essa via, conectar várias pessoas. É por isso que nem sempre tornar-se visível significa tornar-se interlocutor. A visibilidade não garante a consideração e a empatia. Vemos e ouvimos o que adquire sentido dentro de parâmetros de legibilidade e escuta que são extremamente desiguais e excludentes. Falar e ser ouvido envolve mais do que “aparecer” na internet: requer refutar narrativas legitimadas e naturalizadas, discursos que impedem a emergência do inesperado e fazem de tudo para atender a certas expectativas criadas por padrões dominantes. Como mencionamos antes, falar envolve também a construção de um lugar de fala, um gesto político de refutar e recusar um discurso autorizado e único para elaborar outros enquadramentos capazes de nos tornar sensíveis aos silêncios e aos silenciamentos que impedem a comunicação, os encontros e os deslocamentos.
- O livro fala de comunicação como encontro. O que se compreende por encontro e quais fatores são indispensáveis para ele?
Costumamos dizer que um encontro pode ser entendido a partir de um conjunto de disposições e disponibilidades para estar com os outros. Ele envolve abertura, acolhimento, avizinhamento e afetos. Os afetos abrangem mais do que sentimentos, porque revelam o quanto estamos dispostos a sermos transformados, deslocados e desestabilizados pelos outros com quem nos encontramos. Assim, o encontro é uma experiência profunda, reflexiva, de auto-construção e de construção de um “comum” que ampare projetos de vida coletivos. No encontro, temos que ser maleáveis o suficiente para revermos nossas expectativas, para reconfigurarmos os saberes que amparam nossa forma de olhar e compreender o mundo que o outro nos apresenta. Muitos encontros, infelizmente, não passam de monólogos, nos quais cada interlocutor reafirma crenças e valores pouco porosos e pouco flexíveis a mudanças. Sabemos que preservar as diferenças e os conflitos, as tensões entre elas é muito importante para não universalizarmos trajetórias e vivências que são distintas e peculiares. O conflito é a base da transformação e das mudanças, porque ele nos exige constantemente uma atitude de revisão de nossas práticas, gestos e posturas. Mas o conflito precisa ser acompanhado de estratégias de articulação, de alianças que, ainda que temporárias, nos permitam promover mudanças mais amplas e profundas. Tais articulações e interfaces são fruto de um trabalho de longo prazo, pois, como dissemos anteriormente, construir e remodelar vínculos é uma tarefa de paciência, de escuta e de investimento em oportunidades de estar com os outros sem desqualificar ou desprezar suas demandas e angústias. É um trabalho baseado em nossa capacidade de facilitar e favorecer aproximações, tornando as fronteiras que nos separam dos outros mais fluidas, para que possam dar lugar a limiares. Um limiar é um espaço e um tempo ampliados, nos quais podemos nos demorar um pouco mais no encontro. Diferentemente da fronteira, que em geral serve para demarcar, reafirmar territórios e sinalizar quando sua linha de segurança é rompida. O limiar seria esse espaço-tempo preferencial para o encontro. Contudo, não podemos nos esquecer que nem sempre podemos acolher ou nos avizinhar demais de determinadas pessoas ou demandas. Temos que estar preparados também para, quando necessário, construirmos barricadas e barreiras que demarquem uma recusa. A recusa à intolerância, ao ódio e à violência, por exemplo. Temos sempre que avaliar quando é possível insistir no encontro e quando é necessário recuar.
- Num momento em que as fakenews sugerem sempre o reforço da própria opinião e interesse, a postura de dúvida pode ser uma porta na direção da redescoberta do outro?
As redes sociais costumam criar espaços de afirmação de opiniões e valores moralistas, apresentando como “verdade” um conjunto de ideias que não expressa a multiplicidade de experiências coletivas. Há uma preocupação em distinguir verdades e mentiras, mas o mais importante é pensar nos critérios que sustentam e embasam essas diferenciações. Não há fórmulas para conviver com os outros, mas existem critérios morais e valorativos que regulam nossa convivência. Nem sempre podemos intervir nesses critérios, mas é vital enxergá-los e discutir sobre eles, buscando brechas que possam dar origem a mudanças. É vital manter sempre em mente que os critérios que amparam nossas escolhas e as condições nas quais as realizamos possuem particularidades. Há uma dimensão social, cultura e política que as atravessa, claro, mas não é possível abrir mão da postura da dúvida e da indecisão. Quando o encontro com o outro serve apenas para reafirmar aquilo que já sabemos ou no que acreditamos, não houve, de fato, um encontro, nos termos que apresentamos anteriormente. O outro deve ser visto como um enigma constante, como uma interrogação com a potência de nos desabrigar, de nos deslocar de nós mesmos e nos ajudar a definir quem somos e no que acreditamos. Não se pode pretender impor ao outro uma determinada “verdade”, nem supor que ele se reduza ao nosso universo de crenças. Duvidar é permitir o contato com outras possibilidades de explicação, de leitura e de imaginação. É um gesto político essencial para o reconhecimento social e para a justiça.
- Até mesmo no “amor”, pode-se estar “amando” apenas um objeto? O que se faz necessário para um gesto de amor que tem o outro por destinatário?
Quando reduzimos o amor ao atendimento de uma expectativa individual corremos o risco de objetificar o outro: ele se torna aquele ou aquela que vai realizar um desejo, trazer algo que falta, permitir a realização de um ideal de felicidade que geralmente não percebe o outro como sujeito complexo e também desejante, mas como meio para alcançar uma meta. Um gesto de amor está ligado ao que vai acontecer, à potencialidade de experiências que surgem na relação com o outro. É, de certa forma, um “devir juntos”, um projeto que depende de investimento e requer abertura, acolhimento e empatia.
- Convivência e pandemia: estar em isolamento social pode ter aflorado os extremos das personalidades e dificultar, ainda mais, a convivência com o outro?
O isolamento que estamos vivendo ocorre de maneira muito diferenciada para as pessoas. Para quem tem condições de permanecer em casa, isso implica pensar juntos em outros desenhos possíveis para a rotina, requer muitos ajustes, reconfigurações e adaptações no dia a dia para que outras possibilidades de estar juntos possam ser construídas. Cada um tinha uma rotina estabelecida antes do confinamento e é essa rotina que nos tranquilizava, conferia uma sensação de concretude e segurança, pois sabíamos as sequências de coisas a serem feitas, como fazê-las e quais recursos eram necessários. É como se perdêssemos tudo isso e tivéssemos que recomeçar, pensar em formas de redispor nosso tempo, nossos espaços de trabalho e descanso, tendo que produzir ajustes em nossos relacionamentos dentro de condições e situações adversas, mais caóticas do que as usuais. O estresse e as perdas geram angústias e nos tornam mais irritáveis: ficamos mais sensíveis aos constrangimentos de poder, às violências do cotidiano, às infindáveis cobranças. É preciso pensar em como nos adaptarmos aos outros e aos ambientes em que estamos continuamente, através de um aprendizado árduo e constante. O confinamento nos desafia a gerenciar o auto-controle, a retrabalhar os termos das negociações, a encontrar brechas para produzir as pequenas alegrias cotidianas que devem equilibrar o peso das responsabilidades. Elaborar possibilidades de estarmos juntos e inventar saídas para escapar aos gestos extremos é uma atitude ética e também política. É uma atitude de respeito e gentileza conosco e com os outros. Acreditamos que, apesar de tudo, esse período pode nos apontar maneiras antes não pensadas de remontarmos, de redispormos nossa forma de vida e nossas rotinas.
- Controle do tempo, controle do corpo, controle da vida… vivemos na era da pretensão de controle? Se sim, em que isso é maléfico?
Uma dimensão negativa do controle, como já haviam sinalizado Foucault e Deleuze – quando falam, sobretudo, da biopolítica e das sociedades de controle -, é a sua ação pela imposição de poder sobre algo ou alguém. Exercer poder implica planificar, adequar, moldar, subjugar, em uma ação normatizadora e ordenadora que raramente permite a emergência do inesperado, do estranho, do desvio. Ainda assim, há sempre linhas de fuga e resistências que escapam à tendência ordenadora do controle que deseja sempre fazer caber todas as singularidades em um conjunto totalizante de princípios e rótulos. Nosso cotidiano funciona bem quando temos controle de nossas ações rotineiras e das atividades que vamos desempenhar… Não se trata então de acabar com o controle, mas de entender que controlar a cadeia de coisas e acontecimentos na qual estamos imersos é uma “ilusão”, uma construção racional que nos ajuda a melhor gerir alguns aspectos de nossa vida. A dimensão “maléfica” mencionada por você se relaciona com a construção de uma ideologia capitalista e neoliberal que aponta o controle como um dos parâmetros do sucesso e da auto-realização. O problema em seguir esses parâmetros e tentar se ajustar a eles é justamente acreditar que o imprevisto, que o “estranho”, que o caos são ruins em si mesmos, que a vulnerabilidade e o desamparo são inadmissíveis e devem ser evitados. Lidar com algo que foge ao contrôle é associado ao “fracasso”, à incompetência, reafirmando que sair do padrão e da norma é uma situação que não pode acontecer. Tudo e todos, na sociedade do controle, têm que ser visíveis, capturáveis, legíveis e ajustáveis.
- Como fazer um rearranjo de convivência com o outro, retrabalhando no espaço cotidiano o nosso eu carregado de identidade, personalidade e sentimentos sem perder a si e sem fazer com que o outro também não perca a sua personalidade?
Acreditamos que a redisposição e remodelagem do cotidiano requer paciência, empatia e negociação constantes para realizar concessões, respeitando os tempos e espaços de quem convive conosco. É também fundamental reservar um tempo e um espaço para nós mesmos, para o repouso, a reflexão e para que possamos recobrar o equilíbrio após alguma tarefa mais árdua e exigente. Não há como zelar por uma convivência saudável sem uma divisão cooperativa das tarefas a serem feitas, dos cuidados a serem dispensados aos que dependem de nós e da manutenção da rede material e afetiva que nos permite existir e sobreviver. Tem que haver uma medida justa entre um tempo para “estarmos juntos” (ainda que à distância) e para “estarmos separados”: sendo sempre possível transitar entre essas duas temporalidades e reconfigurá-las quando necessário.
Se preferir, assista ao vídeo no nosso canal: youtube.com/editoravozes
Compartilhe nas redes sociais!



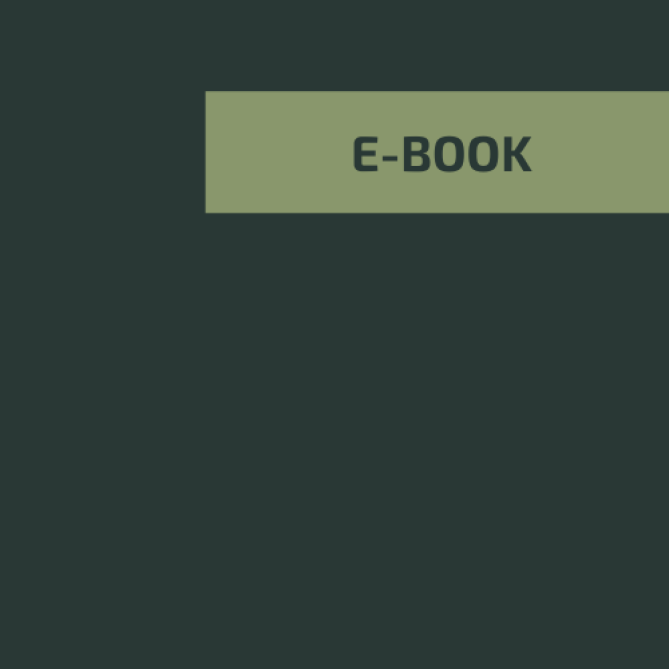
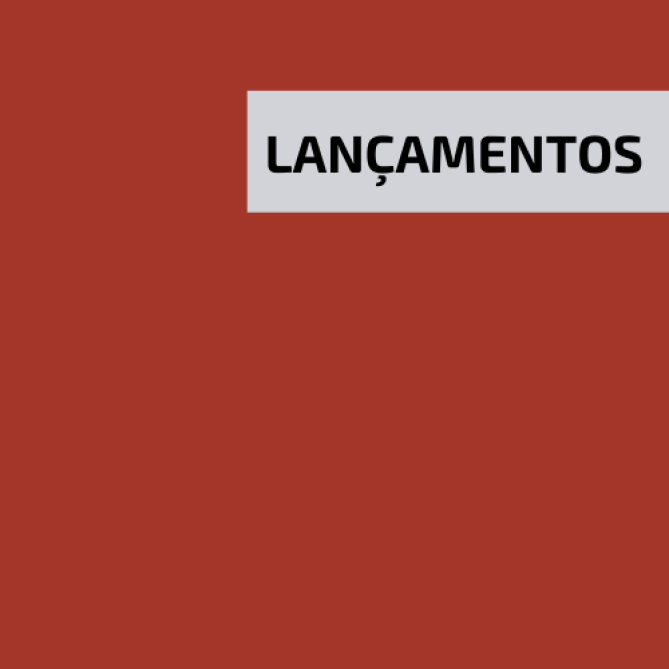

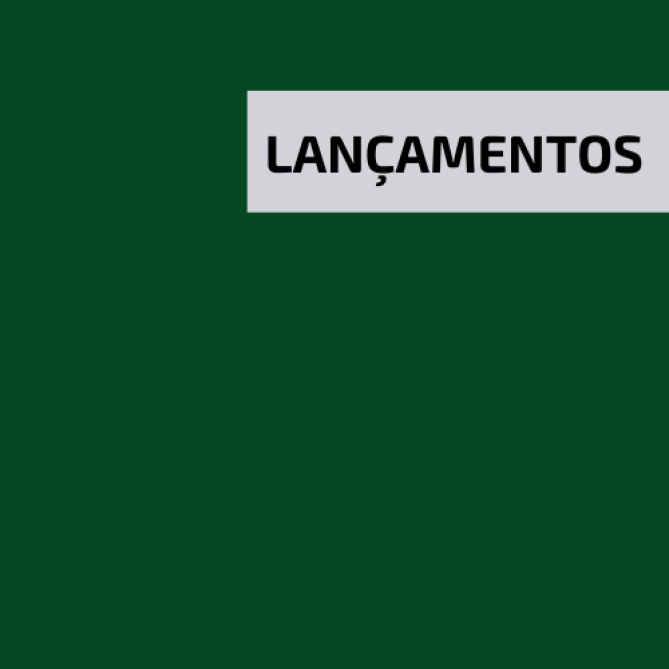
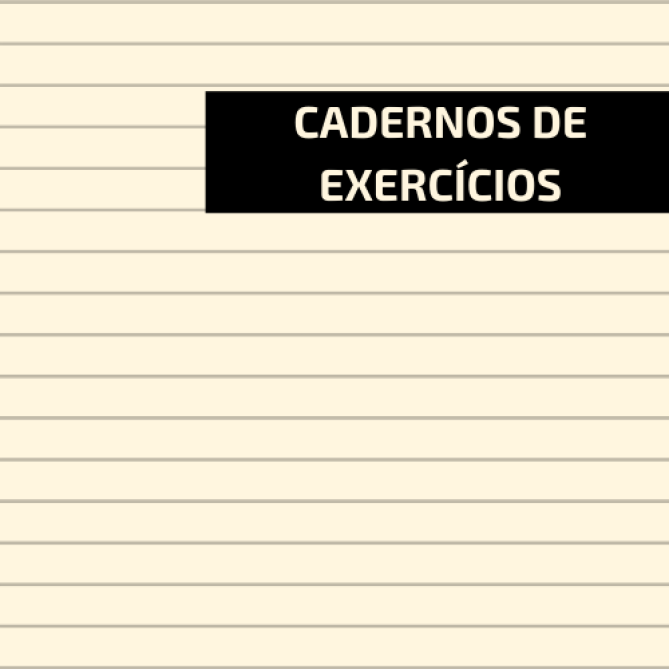
Comentários
Seja você a fazer o primeiro comentário!