Resistências na História da Educação
Por: Luciano Mendes de Faria Filho
Há 80 anos, um mundo melhor continuava apenas no imaginário coletivo, e escritores criavam obras para expressar, ao mesmo tempo, as necessidades vitais e simbólicas das quais parte substantiva da população brasileira estava privada. Contudo, necessidade, esperança e desejo se entrelaçavam em uma aposta de que a humanidade não estava de todo perdida.
Hoje, cá estamos nós, de novo, querendo ardentemente acreditar que o vaticínio de Nelson Rodrigues – “A humanidade não deu certo” – não é verdadeiro. Para isso, uma das grandes apostas para fazer com que a humanidade tome o rumo “certo” é a educação.
Dizem os clássicos que a educação, em seu sentido positivo, é o processo de tornar humanas as pessoas que chegam ao mundo, ou, em seu sentido negativo, é o conjunto de ações estabelecidas pelas gerações mais velhas para evitar que a sociedade impeça que as gerações mais novas desenvolvam todas as potencialidades humanas com que chegaram ao convívio social. Em ambos os casos, tais definições, precárias por certo, esquecem dos sujeitos a serem educados. E eles, o que desejam?
Se a educação é uma aposta, porque os sujeitos desejam e agem, também a busca por integração e por reconhecimento aos quais todos os seres humanos almejam, individual e coletivamente, também o é. Isso, porque o tempo-espaço da ação educadora nunca se estabelece como início – ou começo – do mundo nem num vazio histórico-cultural que precisa ser preenchido. Daí que, de parte a parte, ou seja, de parte do mundo social que recebe as novas gerações e, também, por parte destas, sempre há resistências. A resistência está, pois, no coração de toda prática educadora.
É assim, porque da educação ninguém escapa, porque os sujeitos agem no mundo e se educam no processo mesmo em que são educados, em que uma ontologia da resistência é possível e no qual uma história das resistências em educação é necessária. De várias formas, trilhando caminhos possíveis e, às vezes, poucos imagináveis, é a isso que se propõem as autoras e os autores dos textos que compõem este livro organizado por Daniel Ribeiro de Almeida Chacon e Aline Choucair Vaz.
Por onde passa e a que se dedica uma história das “resistências em História da Educação”? Os textos que compõem este livro nos ensinam que ela se dirige a todos os sujeitos – mulheres, população LGBTQIA+, população negra, aos guerrilheiros, aos movimentos sociais – e, aqui, contra-hegemonicamente, aos processos pelos quais eles e elas buscam fazer com que o mundo acolha de forma mais solidária, democrática e igualitárias todas as humanidades do mundo.
Sem padecerem de um humanismo que joga para as sombras as dimensões humanas que não lhe interessa ver ou nomear – a perversidade, a maldade, o ódio, a inveja, a destruição das demais populações que habitam o planeta... – os autores e as autoras (que aqui comparecem por meio de suas pesquisas transformadas em textos) apostam que é possível transformar o mundo (e para melhor) por meio da educação, sobretudo, em sua forma escolar.
Assim, articulando o interior e o exterior da escola, a História da Educação aqui praticada e visibilizada é contra-hegemônica tanto em seu alcance político quanto em seu potencial epistemológico. Em primeiro lugar, porque ela reconhece os outros da educação e suas buscas por fundarem outra escola, outras práticas pedagógicas, outros processos de reconhecimento. Narrar a história da educação desde os muitos abismos que marcam a sociedade brasileira e, de lá, recuperar outros possíveis é uma operação política da mais alta importância, principalmente nos tempos atuais. No entanto, não é menos disruptiva uma História da Educação que desnaturaliza a escola e que incorpora em sua história aquilo que os processos de escolarização tudo fazem para esconder: a escola é uma máquina de moer gente e de destruir as epistemologias que não se enquadram nas perspectivas hegemônicas das autoridades que as comandam.
Historicamente, comandar a escola não significa apenas controlar as instituições, seus sujeitos e os conhecimentos, mas também, e especialmente, os seus arquivos. Fazer uma história das resistências na história da educação significa, pois, uma luta contra o poder dos arcontes que comandaram os seus arquivamentos lá no passado e, hoje, querem comandar as formas de interpretar os arquivos que nos foram legados. É por isso que uma história a contrapelo é necessária se queremos, ao arrepio das perspectivas vigentes, fazer outra história.
Fazer outra história é também, nesse sentido, constituir novos arquivos e estabelecer novas memórias. É atuar no presente para dar sentido – novos sentidos – ao passado e perspectivar futuros possíveis. É deixar rastros, pistas e sinais, lembrando Ginzburg, para que, no futuro, novas operações historiográficas sejam possíveis.
Por isso, operação regrada, lógica, escriturária, a prática da disciplina História da Educação, como qualquer outra prática, é também permeada por necessidades, esperanças e desejos. Nessa perspectiva, longe de se comunicar apenas tão somente aos iniciados e aos especialistas, os textos desta obra se voltam ao diálogo com as pessoas que, hoje, fazem a história. Há um imperativo ético que mobiliza a ação interpretativa e a prática escriturária que aqui se estabelece, fazendo do estudo das resistências em educação o anúncio de uma educação que faça aflorar o melhor do humano que há em nós, ou seja, de estabelecimento de uma educação pelas resistências.
Ainda que não haja nada que nos garanta que ganhemos essa aposta e que possamos construir um mundo mais solidário, justo, igualitário e não violento, livros como este nos dão um certo alento por antecipar possibilidades desse novo mundo. Desse modo, em seus aspectos críticos e enunciativos, obras assim são utópicas e nos convidam a imaginar que um outro mundo é possível. E isto é, por si, uma grande qualidade nestes tempos distópicos em que vivemos. É por isso, também, que merecem e precisam ser lidos.
Luciano Mendes de Faria Filho é professor aposentado da UFMG, escritor e membro do Coletivo Cidade das Letras, da Rede Bras Educ em Direitos Humanos - MG e do Portal do Bicentenário.
Compartilhe nas redes sociais!

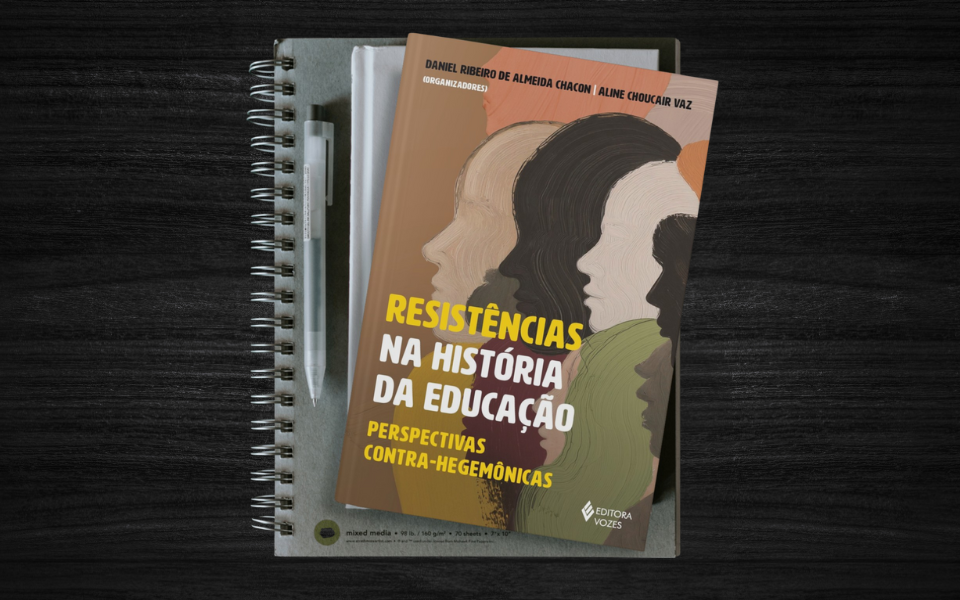


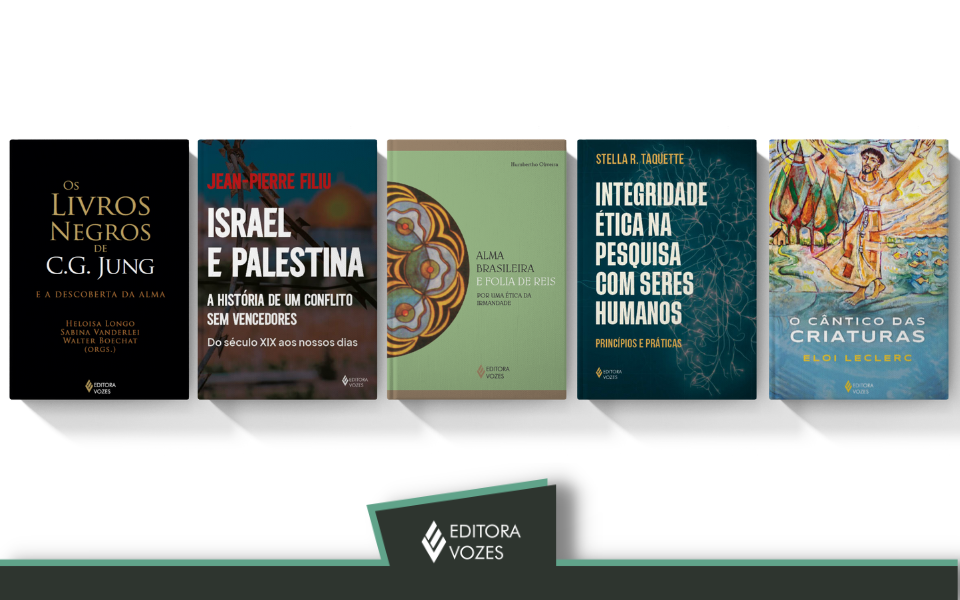


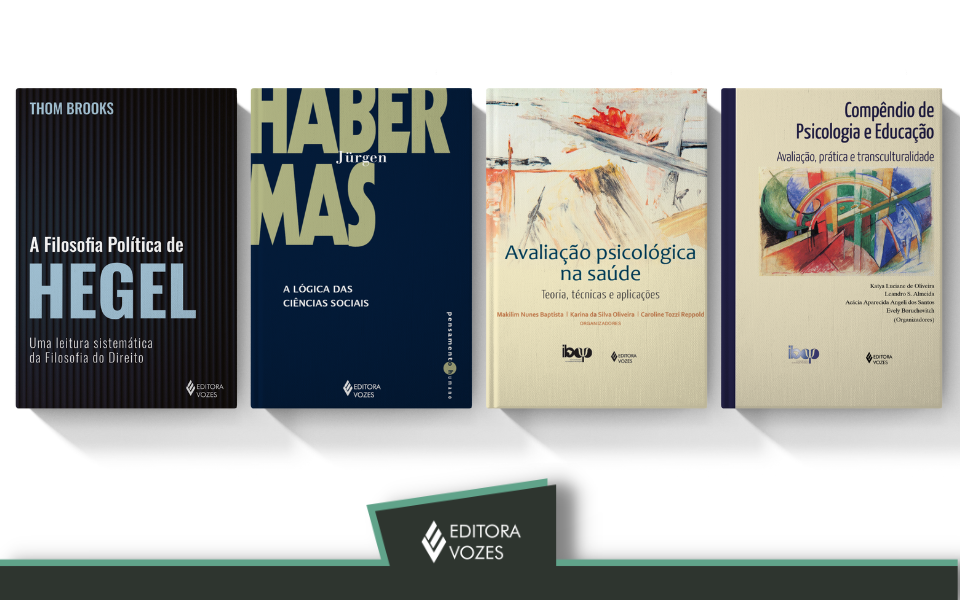
Comentários
Seja você a fazer o primeiro comentário!