Brasil - Reforma agrária como solução
Por: Juliane Furno
O livro “Brasil: reforma agrária como solução”, de Miguel Enrique Stédile, é um material ao mesmo tempo panorâmico e profundo sobre a questão agrária no Brasil. Embora tenha o país como lócus de análise, o autor inicia nos primórdios do capitalismo, especialmente na transição do feudalismo. Inspirado em Paul Sweezy, mostra como o soerguimento do comércio, a geração de excedente e as inovações tecnológicas abriram caminho para a crise do modo feudal e a transição ao modo capitalista de produção. Nesse processo, a apropriação e os cercamentos das terras comuns, bem como a expropriação dos trabalhadores de seus meios de subsistência e produção, foram mecanismos centrais de uma acumulação primitiva de capitais que, muito provavelmente, tornou possível o capitalismo como o conhecemos. Assim, a terra — e sua concentração com fins comerciais — está na estrutura fundacional do capitalismo global.
A obra combina densidade teórica e profundida política: articula a longa duração histórica com elementos conjunturais e atuais. Tratar hoje da reforma agrária como solução exigiria, de fato, um mergulho nas raízes profundas da formação social, cultural e econômica do país — e Stédile faz isso ao situar na colonização brasileira a origem da nossa questão agrária. O tipo de colonização a que fomos sujeitos — na expressão de Caio Prado Junior, colonização de exploração — legou-nos uma estrutura agrária que nasce no período colonial, se reproduz até hoje e bloqueia a realização do potencial nacional.
Diferentemente da Europa, o Brasil não conheceu feudalismo. Aqui, a propriedade da terra sempre se organizou em torno da produção de valores de troca — caráter mercantil — integrada à oferta de bens fundamentais ao desenvolvimento do capitalismo no centro. Nossa estrutura formou-se na tríade latifúndio–exportação–monocultura, sob o jugo do trabalho escravizado. A transição ao capitalismo não veio acompanhada das “reformas capitalistas clássicas”, em especial a Reforma Agrária. Na expressão de Florestan Fernandes, a burguesia brasileira optou por um acordo de acomodação: generalizou relações capitalistas preservando o latifúndio monocultor.
Daí por que, no Brasil (e em grande parte dos países de capitalismo dependente), falar em “Reforma” Agrária se aproxima de “revolução”: não tendo sido realizada — e não parecendo exequível pela burguesia —, torna-se uma tarefa que recai sobre os trabalhadores e suas organizações.
Segundo o autor, o país perdeu várias janelas para fazer a Reforma Agrária nos moldes capitalistas, como França e EUA. A primeira, no contexto da abolição: nas palavras de Clóvis Moura, “fizemos a independência conservando a escravidão e fizemos a abolição conservando o latifúndio”. A segunda, no golpe militar que proclamou a República — mudança de regime sem alteração da concentração fundiária. Outra chance surgiu no pós-Segunda Guerra, com a Constituinte que se seguiu à queda de Vargas: diversos militantes do PCB foram eleitos — entre eles Luiz Carlos Prestes, o “cavaleiro da esperança” — e ele apresentou o primeiro projeto de lei de Reforma Agrária, mas o PCB foi criminalizado e teve seus mandatos cassados em 1947. No pós-golpe empresarial-militar, aventou-se nova possibilidade com o Estatuto da Terra — em uma clara tentativa de conter a força política do movimento camponês organizado pelas Ligas Camponesas. Por fim, a Constituição de 1988, apesar de avanços, desperdiçou outra grande oportunidade; a reforma permanece questão aberta e latente.
O livro também recupera o debate fértil dos anos 1950, quando a intelectualidade progressista vislumbrava superar o subdesenvolvimento. Para correntes que vão dos teóricos ligados ao PCB — Caio Prado Junior, Nelson Werneck Sodré, Alberto Passos Guimarães — a Josué de Castro e ao nacional-desenvolvimentismo de Celso Furtado, o desenvolvimento passava, invariavelmente, pela Reforma Agrária.
Outro mérito é a análise das transformações que, a partir dos anos 2000, moldaram o agronegócio. Diferente do latifundiário “pessoa física”, a propriedade e o controle da cadeia produtiva hoje se concentram no capital — sobretudo investidores estrangeiros, grandes empresas e fundos de investimento. “Controlando toda a cadeia produtiva eles decidem o que é produzido nas terras brasileiras, qual será o mercado desses produtos, o preço pago ao agricultor e o preço final para o consumidor”. Assim, grande parte da produção rural está voltada a produzir commodities, especialmente aquelas mais valorizadas no mercado internacional, com o preço dos seus produtos negociados em bolsas de valores e sujeita a forte especulação financeira. Em 2021, commodities como soja, milho, algodão, cana-de-açúcar e pecuária bovina ocupavam 86% de toda a área agrícola, representando 94% de todo o volume e 86% do valor da produção nacional. Por outro lado, a produção de feijão diminui 18% em 10 anos e o arroz deverá ter uma redução de 2/3 na próxima década.
A isso somam-se os custos socioambientais. O Observatório do Clima aponta a derrubada de mata nativa como principal fonte de emissões de gases de efeito estufa no Brasil em 2020. No uso intensivo de insumos, “o uso dos agrotóxicos elimina a vida de milhares de micro-organismos no solo, que são fundamentais para a produtividade e para o combate de pragas. Quanto mais veneno o agrotóxico despeja, menos produtiva vai se tornando a lavoura e mais resistentes se tornam as pragas” — reforçando um ciclo vicioso. Enquanto o agronegócio avança sobre a fronteira agrícola, Amazônia, terras indígenas, quilombolas e de pequenos produtores, o Censo Agropecuário registra o desaparecimento de 485 mil unidades da agricultura familiar — com o Nordeste como região mais afetada.
Como não poderia faltar em um livro com “Reforma Agrária” no título, Stédile dedica amplo espaço de análise ao MST, maior movimento camponês da América Latina. Para além de índices e evidências — desenvolvimento local, produção de alimentos, manejo de solo —, ressalta uma dimensão humana e pedagógica. “A forma como exploramos a natureza e seus recursos reflete muitos aspectos das relações sociais; por isso, quando repensamos o trabalho em agropecuária, também revemos as relações de produção estabelecidas”. Assentamentos e acampamentos anunciam, pela prática, outra sociabilidade: trabalho cooperado, igualdade racial e de gênero e combate a discriminações.
Na conclusão, o autor mostra que o MST compreendeu a reconfiguração do mundo rural e formulou uma proposta à altura do século XXI: a “Reforma Agrária Popular”. A mera distribuição de terras — a reforma clássica — já não basta para os iminentes desafios do século XXI. “Para o MST permanece a necessidade de democratizar o acesso à terra e de distribuí-la para os trabalhadores rurais que queiram trabalhar e sobreviver da terra. Porém, dois novos objetivos são acrescentados com muita ênfase: A Reforma Agrária Popular deve produzir alimentos saudáveis para alimentar o povo brasileiro e proteger a natureza, e as transformações da propriedade da terra devem gerar novas relações humanas e sociais, combatendo todas as formas de violência, incluindo o racismo, o machismo, a LGBTfobia e outras manifestações de intolerância.”
Num país em que a estrutura agrária originária segue condicionando a economia, a democracia e o clima, discutir reforma agrária — nos termos propostos por Stédile — é discutir soberania alimentar, transição ecológica e o projeto de nação.
Juliane Furno é economista, cientista social e professora da faculdade de economia da Universidade Federal Fluminense (UFF).
Compartilhe nas redes sociais!

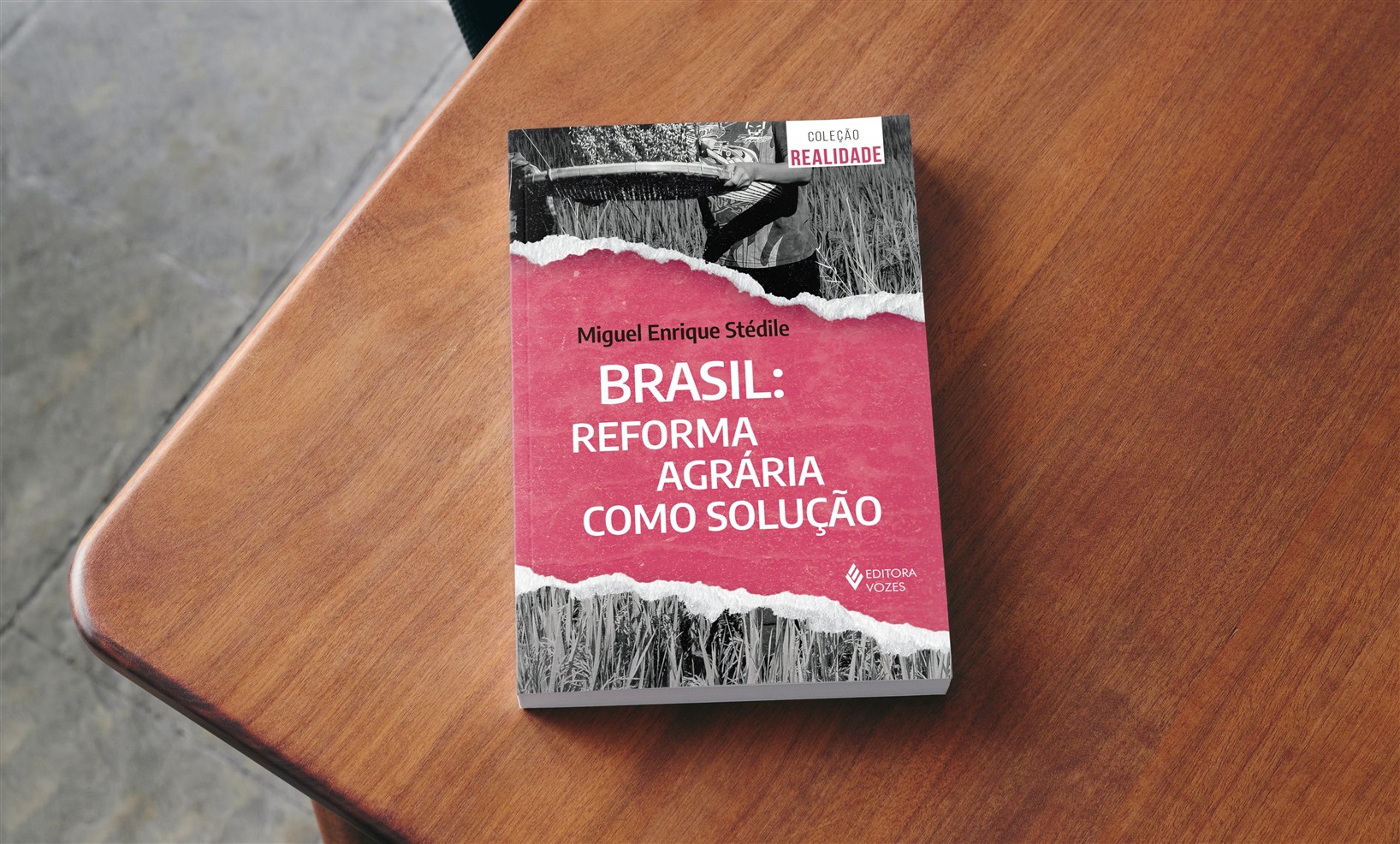
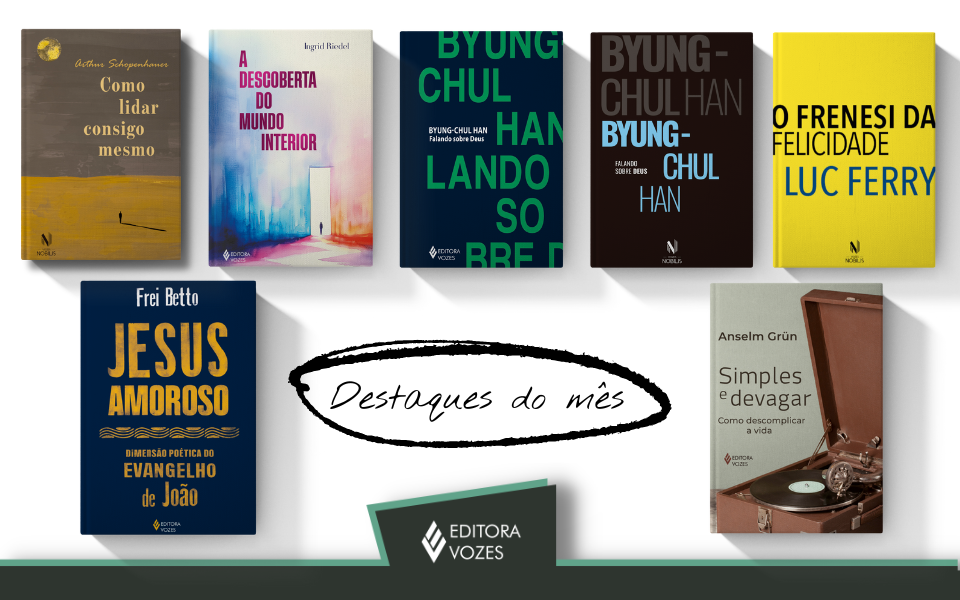


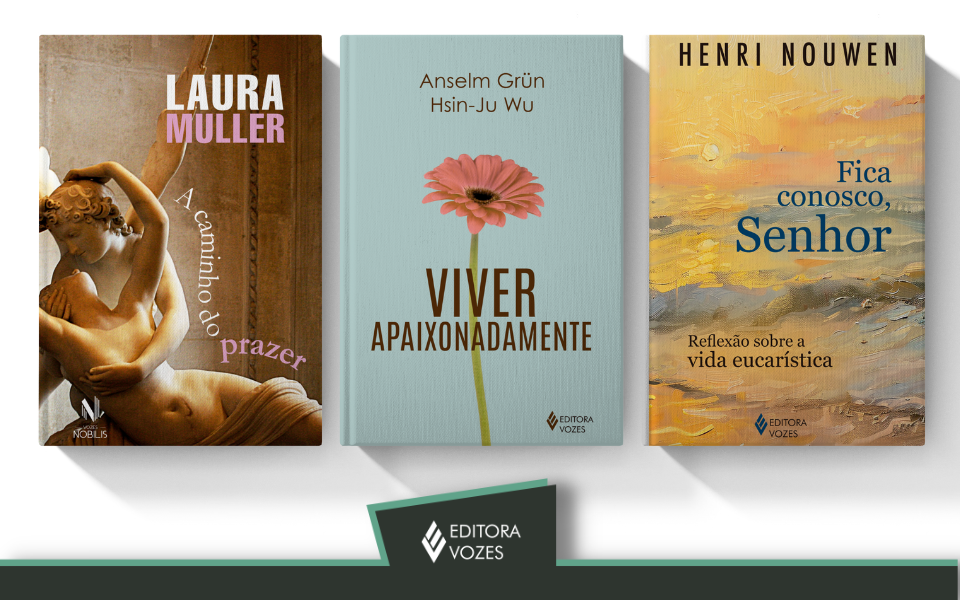

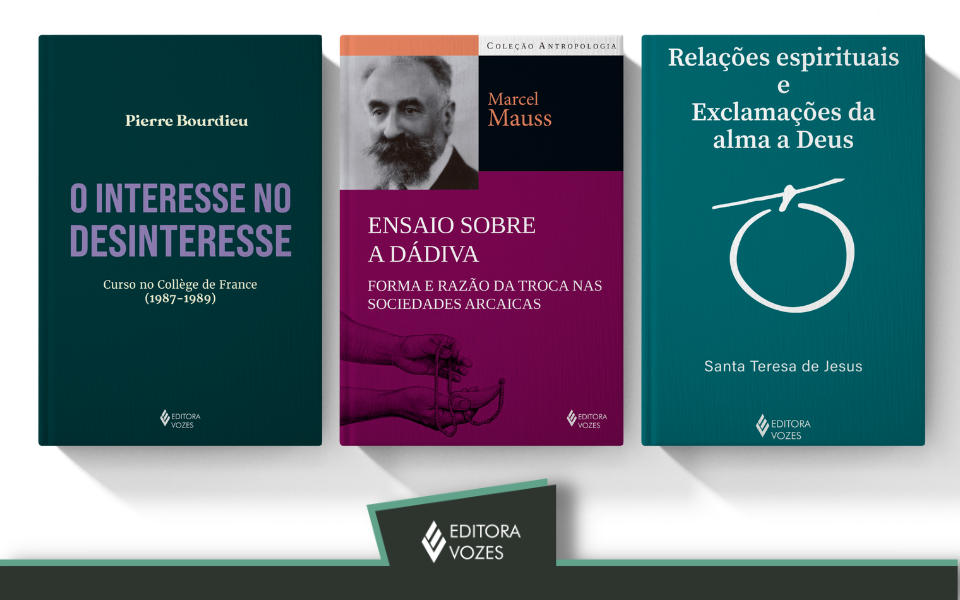
Comentários
Seja você a fazer o primeiro comentário!